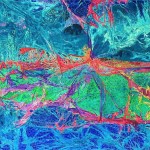No dia 14 de dezembro, a Galeria do Lago, no Museu da República, Catete, Rio de Janeiro, RJ, inaugura a exposição “Jardim do Éden”, da artista Patrizia D’Angello, com curadoria de Isabel Portella. A exposição apresenta 25 pinturas recentes e inéditas e o conceito foi pensado a partir dos muitos banquetes realizados no Palácio do Catete, sede do Governo Federal entre 1896 e 1960 e que hoje abriga o Museu da República
“Numa narrativa bem humorada, mas repleta de sutis paralelos, a artista se debruça sobre os grandes temas da pintura figurativa, o retrato, a paisagem e a natureza morta. Em seus trabalhos, Patrizia procura discutir os limites do real, da mímesis e as implicações no mundo contemporâneo”, afirma a curadora Isabel Portella.
Para realizar a exposição, a artista mergulhou no acervo do Museu, em documentos relacionados ao tema, como uma bela coleção de convites e menus das muitas recepções ocorridas ali, bem como fotos, vasos, pratarias, sancas e mobiliário pertencentes ao Palácio do Catete, que aparecem nas obras mesclados a seu repertório poético.
De família italiana, Patrizia D’Angello cresceu rodeada por encontros em volta da mesa, com comida farta. Para ela, “comer junto é uma maneira de se compartilhar afeto”. Desta forma, seu trabalho sempre esteve atravessado pela comida, que, em suas naturezas mortas, ganham outras camadas de sentido. Movida por um humor dionisíaco e tendo como norte a Pop Art e a Tropicália, os trabalhos de Patrizia D’Angello estão sempre reverberando questões do feminino/feminismo. Em uma operação ambivalente de afirmação e crítica, a artista desloca sentidos e, com humor, joga luz sobre a pretensa “normalidade” do patriarcado e suas práticas predatórias. “A abordagem desse espaço tão representativo do poder, do patriarcado, da ordem vigente, se dá através do campo relegado desde sempre ao domínio das mulheres, a cozinha, a mesa, a decoração, o enfeite, o bordado, o doce, o belo… Um universo, segundo essa lógica dominante, menor, secundário, fútil e frívolo, por isso mesmo entregue de bom grado às mãos que vieram pra servir”, ressalta a artista.
A grande pintura “Jardim do Éden”, que dá nome à exposição, retrata um piquenique realizado sobre uma canga com a imagem da famosa pintura do renascimento, “O nascimento da Vênus”, de Sandro Botticelli (Itália, 1445 – 1510). “Também queria falar da área externa do museu, do lindo parque e dos convescotes que ali aconteceram no passado de forma reservada e que seguem acontecendo hoje com o espaço convertido em museu, de forma pública e democrática”, explica a artista, que em suas pesquisas encontrou imagens da família de Pereira Passos (1836-1913), prefeito do então Distrito Federal entre 1902 e 1906, nos jardins do Palácio do Catete.
A imagem da Vênus de Botticelli, uma das tantas idealizações da mulher presentes na História da Arte, serve de leito para um piquenique, onde, junto ao seu peito, repousa uma faca e sobre seu corpo é servida a comida. O trabalho se chama “Jardim do Éden” e, a um só tempo, a artista relaciona a idealização, a objetificação, a exploração e toda uma narrativa milenar escrita por homens sobre o que foi e qual deve ser o papel da mulher.
O pensamento crítico aparece sempre de forma sutil, quando a sobreposição do título à imagem produz um ruído desconsertante. “O título dos trabalhos é parte indissociável da obra, pois é através do deslocamento de sentido engendradado nessa operação de nomear que desenvolvo a narrativa que me interessa explorar”, conta Patrizia D’Angello. Muitas vezes, os nomes das obras remetem a questões que não estão retratadas diretamente na pintura. Um exemplo disso é a obra “Canavial”, com a imagem de um açucareiro de prata. A figura bonita, que remete à riqueza, é quebrada com a lembrança do título, que imediatamente remete à exploração e à escravidão. No entanto, tudo é feito de forma leve, quase imperceptível e, a um primeiro olhar, o que se vê são belas e sedutoras imagens. “Se o feminismo, a sensualidade erótico-sensorial, o patriarcado, a exploração são questões que interessam à artista explorar, ela o faz com humor, numa crítica que expõe engrenagens perversas e desnuda atitudes machistas, sem perder a doçura”, afirma a curadora Isabel Portella.
“Retrato mulheres insurgentes e empoderadas a debochar desse mundo constituído sob valores alheios e desfavoráveis, piqueniques, mesas, comidas, doces, vasos e ornamentos onde tudo parece estar onde deveria estar exceto pelo fato de que essa afirmação resvala numa bem humorada crítica”, diz a artista.
Sobre a artista
Patrizia D’Angello nasceu em São Paulo, mas vive e trabalha no Rio de Janeiro. Formada em Artes Cênicas pela Uni-Rio e em Moda pela Candido Mendes, a partir de 2008, cessou todas as atividades em outras áreas pra se dedicar exclusivamente à arte. Desde então, desenvolve uma poética que, através de artifícios da narrativa do cotidiano, incorpora e comenta a vida em suas grandezas e pequenesas, em seus potenciais de estranhamento e em suas banalidades, espelhando e refletindo aquilo que diz respeito à vida. Transita pela produção de objetos, performance, fotografia, video e, mais assiduamente, pela pintura. Frequentou a Escola de Artes Visuais no Parque Lage, onde realizou diversos cursos. De setembro de 2014 a Março de 2015 esteve no programa de bolsa residência-intercâmbio com a École Nationale Superieure des Beaux Arts de Paris. Foi indicada ao prêmio PIPA em 2012. Dentre suas principais exposições individuais estão: “Lush” (2018), no Centro Cultural Municipal Sergio Porto, no Rio de Janeiro; “Assim é se lhe parece – Casa, Comida e Roupa Lavada” (2016), no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro; “Kitinete” (2016), no Ateliê da Imagem, no Rio de Janeiro; “No Embalo das Minhas Paixões”, na Galeria de Arte IBEU, no Rio de Janeiro, entre outras. Dentre suas últimas exposições coletivas estão: “Primeiro salão de Arte Degenerada”, no Ateliê Sanitário, “Rios do Rio”, no Museu Histórico Nacional, “Passeata”, na Galeria Simone Cadinelli, “My Way”, na Casa França-Brasil, todas este ano, no Rio de Janeiro; “Futebol Meta Linguagem” (2018), no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, no Rio de Janeiro; “Poesia do Dia a Dia” (2017), no Centro Cultural Sergio Porto, no Rio de Janeiro; “Quero que Você me Aqueça nesse Inverno” (2016), no Centro Cultural Elefente, em Brasília; “Attentif Ensemble” (2015), no Jour et Nuit Culture, em Paris; “Portage” (2014), no ENSBA, em Paris; “Como Se Não Houvesse Espera” (2014), no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, entre outras.
Sobre a Galeria do Lago
A Galeria do Lago apresenta programas contínuos de exposições de arte contemporânea, que visam a discutir aspectos da produção da arte atual, com obras que de alguma maneira se relacionem com o Museu da República.
De 14 de dezembro de 2019 a 15 de março de 2020.