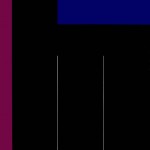A Um Galeria, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, inaugura, no dia 09 de maio, a primeira exposição individual no Rio de Janeiro do artista plástico Rodrigo de Castro. Com curadoria de Vanda Klabin, serão apresentadas cerca de 15 pinturas inéditas, em óleo sobre tela, produzidas este ano. Mineiro, o artista atualmente vive em São Paulo e é filho do consagrado escultor Amilcar de Castro.
“Ao longo de dezessete anos de atividade artística, a sua gramática pictórica se transformou em um campo fértil de pesquisa e inovações. O artista investiga a relação fluida dos campos cromáticos, contrapõe ritmos e problematiza o espaço interno aliado a um rigoroso jogo de derivações geométricas”, afirma a curadora Vanda Klabin, que acompanha a trajetória de Rodrigo há muitos anos, pois era muito próxima de seu pai, de quem fez diversas curadorias.
Rodrigo de Castro participou de importantes exposições coletivas no MAM Rio, no Centro Cultural São Paulo e na Funarte, onde foi premiado no 11º Salão Nacional de Artes Plásticas, na década de 1990. Dentre seus projetos futuros, está a exposição “5 artisti brasiliani geometria”, que será realizada em novembro, no Palazzo Pamphilj, em Roma. A exposição, que também terá a participação de Maria-Carmen Perlingeiro, Suzana Queiroga, Luiz Dolino e Manfredo de Souzanetto, seguirá para a Casa-Museu Medeiros e Almeida, em Lisboa, em 2018.
Obras em exposição
Rodrigo de Castro apresentará sua mais recente produção, em que dá continuidade à pesquisa com as cores e o espaço, que vem desenvolvendo desde o início de sua trajetória. As linhas, as cores e as formas são elementos presentes em suas pinturas. “São diálogos com as áreas de cor, com a proporcionalidade delas”, explica o artista.
A maioria das pinturas possui cores fortes e vibrantes, mas haverá também algumas obras em preto e branco e outras com pequenos pontos de cor. “Como componente essencial, a cor é tratada pelas suas qualidades visuais, seja para organizar a superfície da tela, seja para dinamizar o ritmo da construção e da geometria, com infinitas possibilidades de ordenação do espaço. A construção de extensas áreas cromáticas, indicativas de suas luminosidades e contrastes, traz a predominância das cores primárias – vermelho, azul e amarelo – ou as não cores, preto, cinza e branco”, diz a curadora.
Além de formas geométricas e de grandes áreas de cor, linhas finas, com cores diversas, também estão presentes em várias pinturas. “As linhas não dividem as áreas, elas na verdade marcam ou delimitam mais a geometria, o estudo das áreas, as formas”, afirma o artista. A curadora Vanda Klabin completa: “A constante presença das linhas negras ou coloridas, dispostas de forma horizontal ou vertical, não representa linhas de força, mas serve para acentuar as relações métricas proporcionais e amplificar as zonas cromáticas. Todos os elementos que compõem o quadro tendem a se contrair ou a se dilatar até encontrar o seu equilíbrio, formando uma superfície homogênea, um verdadeiro plano geométrico”.
O artista destaca que suas pinturas possuem poucos elementos, mas que estes “conversam entre si”, sendo cada um deles fundamental para a construção do quadro. Seu processo de trabalho é longo. “Uso tinta a óleo, que demora para secar, então é um trabalho lento. Além disso, antes de pintar, há uma fase de estudo das cores, que não saem direto do tubo de tinta. O azul, por exemplo, misturo muito até chegar na tonalidade que quero, assim como o amarelo”, conta o artista.
Rodrigo de Castro teve muitas influências em sua trajetória artística. “A formação do seu olhar tem referências culturais no ideário da tradição construtiva e na linguagem geométrica do neoplasticismo. Encontra ressonâncias nas obras de artistas que pontuaram a vanguarda da contemporaneidade, como Kazimir Malevich, Piet Mondrian, Josef Albers, Henri Matisse, Mark Rothko, entre outros. Rodrigo de Castro manifesta sua profunda admiração por Claude Monet e Vincent van Gogh – pela intensidade da cor de um lado e a poesia da luz, de outro. Segundo o artista, ambos realizam a mesma coisa: acordes perfeitos de luz e cor”, conta Vanda Klabin. Rodrigo ressalta que também recebeu influências do pai e de artistas amigos dele com os quais conviveu desde a infância. No entanto, ao longo de sua trajetória, foi criando uma linguagem própria. “Pintura é uma atividade solitária. Com o tempo, você vai deixando de lado as influências e descobrindo um caminho próprio”, diz o artista.
Sobre o artista
Rodrigo de Castro nasceu em Belo Horizonte, em 1953. Vive e trabalha em São Paulo. Iniciou sua carreira na década de 1980. Sua pintura é rigorosa, sugere precisão. Mas ele recusa a associação de seu trabalho com o matemático e o científico. Gosta do que chama de geometria sensível. Arte que vem da sensibilidade. Acredita que a vivência essencial do artista é com sua alma e consciência. Considera essencial nesse processo: a importância da prática, defende que o fazer ensina, que teoria só ensina teoria. Seu desafio é ser mais do que reprodução de uma teoria. O artista experimenta relações de cores, desequilíbrios, harmonia e estruturas não complementares. No geral, suas pinturas são produto de estudos. Pesquisa cujo ponto de partida é a busca de construção com áreas de cor que instalem relações de contraste, profundidade, vibração luminosa e espaciais. Artista premiado, no 11º Salão Nacional de Artes Plásticas, Funarte, no Rio de Janeiro e agraciado com o Prêmio Principal, no 13º Salão de Arte de Ribeirão Preto, Rodrigo de Castro participou de diversas mostras individuais e coletivas, no Brasil e no exterior, entre elas, uma exposição no MAM Rio, na década de 1990, ao lado de artistas como Nuno Ramos, Carlito Carvalhosa, Paulo Pasta, entre outros.
Sobre a curadora
A carioca Vanda Klabin é formada em Ciências Políticas e Sociais pela Puc/Rio e em História da Arte e arquitetura pela UERJ. Fez pós-graduação em Filosofia e História da Arte (PUC/Rio). Trabalhou como coordenadora adjunta da Mostra do Redescobrimento – Brasil 500 anos; diretora geral do Centro de Arte Contemporânea Hélio Oiticica e coordenadora assistente do curso de pós graduação em História da Arte e Arquitetura da PUC/Rio por muito anos. Realizou diversas mostras coletivas tais como A Vontade Construtiva na Arte Brasileira, 1950/1960, Art in Brazil 1950/2011, Festival Europalia – Palais des Beaux- Arts (Bozar) – Bélgica, Bruxelas, Outubro 2011, entre muitas outras. Responsável pela curadoria e montagem de diversas exposições de artistas nacionais e internacionais como: Iberê Camargo, Alberto da Veiga Guignard, Eduardo Sued, José Resende, Carlos Zilio, Frank Stella, Antonio Manuel, Mira Schendel, Richard Serra, Luciano Fabro, Mel Bochner, Guilhermo Kuitca, Amilcar de Castro, José Resende, Walter Goldfarb, Nuno Ramos, Jorge Guinle, Antonio Bokel, Laura Belém, Niura Bellavinha, Alexandre Mury. Fernando de la Rocque, André Griffo, Joana Cesar, Leonardo Ramadinha, Luiz Aquila, Alfredo Volpi, Henrique Oliveira, Antonio Dias, Lucia Vilaseca, Daniel Feingold, André Griffo, Maritza Caneca, Renata Tassinari, Célia Euvaldo, entre outras.
Sobre a galeria
A Um Galeria foi inaugurada em dezembro de 2015, pela colecionadora Cassia Bomeny, com o objetivo de apresentar arte contemporânea, expondo artistas brasileiros e internacionais. A galeria trabalha em parceria com curadores convidados, procurando elaborar um programa de exposições diversificado. Tendo como característica principal oferecer obras únicas, associadas a obras múltiplas, sobretudo quando reforçarem seu sentido e sua compreensão. Explorando vários suportes – gravura, objetos tridimensionais, escultura, fotografia e videoarte. Com esse princípio, a Um Galeria estimula a expansão do colecionismo, com base em condições de aquisição, bastante favoráveis ao público. Viabilizando o acesso às obras de artistas consagrados, aproximando-se e alcançando um novo público de colecionadores em potencial. A galeria também abre suas portas para parcerias internacionais, com o desejo de expandir seu público, atingindo um novo apreciador de arte contemporânea, estimulando o intercâmbio artístico do Brasil com o mundo.
De 09 de maio a 24 de junho.